O papel de uma faculdade
pública de Direito é formar líderes para qualquer área que seja do interesse de
seus formandos. No caso da Faculdade de Direito da USP, isso significa devolver
a instituição ao centro do debate nacional. É o que diz o novo diretor da
faculdade, o professor Floriano de Azevedo Marques.
Para ele, essa missão envolve criar quadros capazes de debater com clareza as grandes questões nacionais e oferecer soluções para as crises que o Brasil enfrenta, conforme contou em entrevista exclusiva à ConJur.
Eleito no final de 2017, Marques já indicou alguns dos caminhos nos quais quer colocar a faculdade do Largo São Francisco: fortalecer e tornar sem volta a política de cotas sociais e raciais; investir na melhoria da infraestrutura física e de TI da faculdade; informar melhor a sociedade de como ela pode usufruir do que a USP oferece; fazer sair dos muros da faculdade a produção intelectual que é produzida.
No campo das ideias, o professor se mostra um garantista. Mais do que isso. Afirma que o Direito é garantista. E critica a falta de meios das instituições para responder aos anseios punitivistas com mais impulso civilizatório. O ensino do Direito, para o professor, é antídoto para a barbárie.
ConJur — O Brasil vive um momento especialmente punitivista? Ou sempre foi assim?
Para ele, essa missão envolve criar quadros capazes de debater com clareza as grandes questões nacionais e oferecer soluções para as crises que o Brasil enfrenta, conforme contou em entrevista exclusiva à ConJur.
Eleito no final de 2017, Marques já indicou alguns dos caminhos nos quais quer colocar a faculdade do Largo São Francisco: fortalecer e tornar sem volta a política de cotas sociais e raciais; investir na melhoria da infraestrutura física e de TI da faculdade; informar melhor a sociedade de como ela pode usufruir do que a USP oferece; fazer sair dos muros da faculdade a produção intelectual que é produzida.
No campo das ideias, o professor se mostra um garantista. Mais do que isso. Afirma que o Direito é garantista. E critica a falta de meios das instituições para responder aos anseios punitivistas com mais impulso civilizatório. O ensino do Direito, para o professor, é antídoto para a barbárie.
ConJur — O Brasil vive um momento especialmente punitivista? Ou sempre foi assim?
Floriano de Azevedo — Está mais punitivista. E é um
sentimento espontâneo e legítimo, que decorre diretamente do grau de afronta
que a sociedade recebe pelas condutas discrepantes e ilícitas. Isso você
assiste tanto com uma sanha de punições cada vez mais draconianas à violência
comum, dos assaltos, dos homicídios, dos crimes contra o patrimônio e a pessoa,
quanto ao que vem sendo veiculado sobre os crimes contra a administração
pública, contra o erário.
ConJur — É normal, então?
ConJur — É normal, então?
Floriano de Azevedo — Que a sociedade reaja com uma sanha
punitivista, querendo ter um engrandecimento da punição, é normal. É muito
difícil a população acuada pela criminalidade, por cima e por baixo, não reagir
assim. O problema é a resposta que as instituições dão. E aí não me preocupa
mais a sociedade ter uma sanha punitivista, isso é uma questão antropológica,
mas mais as respostas das instituições.
ConJur — Como assim?
ConJur — Como assim?
Floriano de Azevedo — Quando as instituições que têm que dar
uma resposta ponderada, civilizada, entram na emoção da sanha punitivista, aí o
observador do mundo jurídico tem que se preocupar. É óbvio que queremos que a
sociedade reaja forte e rapidamente à conduta criminosa. Essa é uma sociedade
saudável, que as pessoas se comportam bem, e aqueles que não se comportarem
bem, praticando crimes, são rapidamente censurados, punidos e recebem a carga
disso. O que é complicado é quando as instituições — não me refiro só ao
Judiciário, o Congresso também — reage emotivamente e aumenta penas ou busca
ensandecer as punições. Para começar a reintroduzir pena de castigos físicos,
pena de morte, prisão perpétua é um passo. E quando o Judiciário reage com
aquilo que eu chamo de atalho para a punição, passando por cima das garantias,
fazendo gambiarras do devido processo legal, como se mais importante do que o
processo justo, legal, fosse o processo que resulta numa pena forte. Eu tenho
muita preocupação com a nossa incapacidade de reagir à altura do desafio de
punir dentro do Estado de Direito.
ConJur — E o que temos visto cada vez são juízes e promotores, enfim, pessoas do sistema de Justiça, repetindo o discurso do senso comum, de que precisa punir, prender rápido, etc. A comunidade jurídica está preparada para enfrentar esse tipo de momento?
ConJur — E o que temos visto cada vez são juízes e promotores, enfim, pessoas do sistema de Justiça, repetindo o discurso do senso comum, de que precisa punir, prender rápido, etc. A comunidade jurídica está preparada para enfrentar esse tipo de momento?
Floriano de Azevedo — O movimento é claro, e não é apenas no
Brasil. O fato novo que existe hoje é que você amplificou, capilarizou as vozes
da sociedade. No mundo inteiro, o Brasil é prova bastante acesa disso, o que
tem de novo é o Judiciário tendo que reagir e aprender a reagir a uma sociedade
que tem instrumentos eficientes para canalizar a sua indignação. O Judiciário
no mundo não está preparado para manter o seu papel contra-majoritário e
ponderado contra uma sociedade que, com o seu sentimento passional e emocional,
amplifica isso, pressiona e advoga reações que nem sempre são civilizatórias.
Quando o Judiciário se preocupa com ouvir a voz das ruas, eu temo nós estejamos
no século XXI reprisando o mais célebre dos julgamentos em que foi ouvido a voz
da multidão. E esse é bíblico, é Pilatos.
ConJur — O que o senhor acha desse debate que o Judiciário, em especial o Supremo, tem que empurrar a sociedade rumo ao progresso, ou "fazer a roda da História girar", para citar a expressão do ministro Barroso?
ConJur — O que o senhor acha desse debate que o Judiciário, em especial o Supremo, tem que empurrar a sociedade rumo ao progresso, ou "fazer a roda da História girar", para citar a expressão do ministro Barroso?
Floriano de Azevedo — Eu gosto muito do ministro Barroso e o
coloco no rol daqueles ministros por quem eu tenho uma admiração que antecede a
sua investidura no cargo de ministro. O que eu vejo como complicado não são
algumas posições do ministro, é um discurso adotado hora e vez no sentido de
dizer que o Judiciário tem que ouvir as vozes das ruas. O Judiciário não tem
que ouvir as vozes das ruas, o Judiciário tem que ouvir e ler aquilo que as
regras e as normas constitucionais determinam. Um bom exemplo que está na ordem
do dia é esse da execução da pena antes do trânsito em julgado.
ConJur — Qual a sua posição?
ConJur — Qual a sua posição?
Floriado de Azevedo Marques — Até posso me convencer que
realmente seja um despropósito, uma disfuncionalidade ter que aguardar uma
miríade infinita de recursos para que alguém comece a cumprir pena. No mérito,
tendo a achar que o sistema tem um pouco de disfuncionalidade. O que não
consigo achar correto é reinterpretar o conceito técnico-jurídico de trânsito
em julgado para entender que o trânsito em julgado ocorre antes do trânsito em
julgado. Isso é uma forçação importante da ordem jurídica. E é uma caixa de
Pandora: quando você começa a adotar sistematicamente uma hermenêutica
criativa, movida a bons propósitos, mas que deixa de lado o rigor do texto
constitucional, não consegue mais controlar qual é o limite para isso. Isso um
risco muito, muito, muito preocupante.
ConJur — Temos percebido o Direito ser "contaminado" pela visão pragmatista que os envolvidos na "lava jato" têm do Direito Penal. Até por declarações do tipo "melhor alguém preso que ninguém preso", ou pelos acordos de delação que foram assinados.
ConJur — Temos percebido o Direito ser "contaminado" pela visão pragmatista que os envolvidos na "lava jato" têm do Direito Penal. Até por declarações do tipo "melhor alguém preso que ninguém preso", ou pelos acordos de delação que foram assinados.
Floriano de Azevedo Marques — Garantias só são garantias
quando elas são garantes, quando elas são inderrogáveis, quando elas são
indecepcionáveis. A “lava jato” tem méritos inegáveis e muitas coisas são
aprendizados a serem replicados. Agora, não vejo como mérito certa criatividade
punitiva, uma criatividade teleológica, finalística.
ConJur — Em que sentido?
ConJur — Em que sentido?
Floriano de Azevedo Marques — Dou três exemplos. Primeiro, a
prisão cautelar como instrumento para alavancar o processo investigativo, e
acelerar a obtenção da verdade real. Isso é absolutamente indesejável, porque
um preso indevidamente anula os benefícios de cem confissões.
O segundo é a seletividade da publicidade. Há hoje em várias situações da “lava jato” processos que são sigilosos às partes, que não obstante são estampados nas páginas dos jornais com grande repercussão.
E o terceiro elemento é a jurisprudência bastante criativa — e uma criatividade que não me parece produtiva — de reinterpretar teorias para, por exemplo, inverter do ônus da prova. Uma coisa é, como foi feito no mensalão, adotar uma teoria de domínio de fato para com base em elementos demonstrar que alguém tinha ciência de um fato. Outra coisa é alavancar essa teoria para levar a uma inversão do ônus da prova em que o acusado tem que provar que não tinha o domínio.
ConJur — Este ano a Constituição completa trinta anos. Que avaliação o senhor faz desse período?
O segundo é a seletividade da publicidade. Há hoje em várias situações da “lava jato” processos que são sigilosos às partes, que não obstante são estampados nas páginas dos jornais com grande repercussão.
E o terceiro elemento é a jurisprudência bastante criativa — e uma criatividade que não me parece produtiva — de reinterpretar teorias para, por exemplo, inverter do ônus da prova. Uma coisa é, como foi feito no mensalão, adotar uma teoria de domínio de fato para com base em elementos demonstrar que alguém tinha ciência de um fato. Outra coisa é alavancar essa teoria para levar a uma inversão do ônus da prova em que o acusado tem que provar que não tinha o domínio.
ConJur — Este ano a Constituição completa trinta anos. Que avaliação o senhor faz desse período?
Floriano de Azevedo Marques — Temos um tema da reflexão
política e sociológica que se reflete na nossa Constituição. É bom que ela seja
longeva? É. É importante, ela estabiliza as instituições. Mas não podemos
perder de vista que a Constituição que temos é a constituição que foi possível
no momento histórico em que ela foi feita. Vínhamos de um regime autoritário
que caía, que já não tinha mais condições de hegemonia. Mas, diferentemente de
muitas constituições da história do constitucionalismo, a nossa não foi editada
sob a hegemonia de um grupo político. A Constituição fez o pacto tributário e
federativo possível daquela época. Ora, é um pouco ilusionismo imaginarmos que
passados esses trinta anos aquele arranjo, fruto daquele possível acerto
hegemônico, continue incólume. É óbvio que precisamos ter uma nova visão do
ponto de vista tributário, o modelo tributário está colapsado. É óbvio que
precisamos ter um novo arranjo previdenciário. É óbvio que precisamos ter um
novo arranjo entre combate à criminalidade e os direitos e garantias
individuais.
ConJur — Como fazer isso tudo?
ConJur — Como fazer isso tudo?
Floriano de Azevedo Marques — Primeiro precisamos ter as
propostas bem claras, e aí vamos avaliar se isso é possível de ser feito com
reforma constitucional, se isso demanda um novo pacto constituinte. Ainda não
tenho certo isso.
ConJur — Isso envolveria descaracterizar a Constituição?
ConJur — Isso envolveria descaracterizar a Constituição?
Floriano de Azevedo — Não necessariamente. Embora pontos
sensíveis sejam cláusulas pétreas, como o pacto federativo, algumas dessas
questões precisam ser revisitadas — vamos usar esse termo. Essa é uma questão
para reflexão jurídica. Começa a surgir o debate como tema consensual pelo
simples fato de que, quando um pacto não interessa a nenhum dos pactuantes,
começa a ser possível revisitá-lo. Os municípios não estão felizes, estados não
estão felizes e a União volta e meia dá mostras de que está desconfortável.
ConJur — O senhor acaba de assumir a diretoria da Faculdade de Direito da USP. Uma de suas bandeiras anunciadas é recolocar a instituição no centro do debate nacional. O que isso quer dizer?
ConJur — O senhor acaba de assumir a diretoria da Faculdade de Direito da USP. Uma de suas bandeiras anunciadas é recolocar a instituição no centro do debate nacional. O que isso quer dizer?
Floriano de Azevedo Marques — A faculdade de Direito tem uma
importância no cenário nacional e uma reflexão acumulada entre os seus
professores e alunos de que ela tem que ser um espaço para oferecer à sociedade
soluções às crises que vivemos. Isso só é feito com debate franco, plural,
construtivo, e é a isso que eu me propus, e também em torno disso eu fui eleito
diretor. A faculdade tem que ser um espaço em que a sua capacidade de agregação
de pessoas que têm algo a dizer e o seu ambiente democrático propiciem a
discussão dos grandes temas. E, principalmente, que ofereça soluções para o
país sem abraçar qualquer das bandeiras que estão aí flamulando nos debates. É
o espaço para essa discussão.
ConJur — Como é receber um aluno que chega na faculdade vindo diretamente desse contexto do discurso punitivista e que ainda não tem contato com as noções de garantismo e respeito a regras constitucionais?
ConJur — Como é receber um aluno que chega na faculdade vindo diretamente desse contexto do discurso punitivista e que ainda não tem contato com as noções de garantismo e respeito a regras constitucionais?
Floriano de Azevedo — Aqui eles são civilizados no mundo do
Direito. É um processo civilizatório. A sociedade ocidental não aboliu a pena
de castigos físicos? Não aboliu a tortura? Não foi por outra coisa senão o
avanço civilizatório. Parece um pouco impopular falar isso, mas o mundo do
Direito, o mundo do processo jurídico, que é incompreensível para o homem comum
que está aviltado pelo crime, é um mundo civilizatório. Os professores de um
curso de Direito têm que é ensinar, quase que catequizar a sociedade, de que a
solução drástica não é a melhor, não é a civilizada.
ConJur — Como é o aluno que chega hoje na faculdade e como ele sai?
ConJur — Como é o aluno que chega hoje na faculdade e como ele sai?
Floriano de Azevedo — Há pluralidade grande, e a faculdade
tem que apresentar para o estudante instrumentos para que ele tenha capacidade
de análise para ler os fatos com os seus próprios olhos e criticamente. Tem
todo tipo de convicção sendo produzida aqui na faculdade. O aluno da São
Francisco sai com uma capacidade de entender o que está sendo debatido e o que
está em jogo, a que bandeira ele vai aderir — é bom que tenha várias bandeiras.
Eu disse isso no meu discurso de posse e repito: a função de uma faculdade
pública de Direito é formar líderes para todas as posições do espectro
político, mas alguém que tenha capacidade de liderar as suas bandeiras e de
criticar, de entender e depurar, sabendo o que está fazendo. Essa é a função
principal.
ConJur — Todo advogado acha que a sua área de especialização é muito importante e que ela deveria ter uma cadeira na faculdade. Como diretor da faculdade, como é que o senhor vê a grade? Pretende mexer em alguma coisa?
ConJur — Todo advogado acha que a sua área de especialização é muito importante e que ela deveria ter uma cadeira na faculdade. Como diretor da faculdade, como é que o senhor vê a grade? Pretende mexer em alguma coisa?
Floriano de Azevedo — É impossível qualquer faculdade no
mundo contemporâneo ter como disciplinas obrigatórias todas as disciplinas que
são relevantes no mundo contemporâneo. Cometemos esse erro há quinze anos, há
vinte anos: fomos inflando a grade e os estudantes, coitados, fazendo seis
aulas de seis disciplinas diferentes por dia. Isso deu errado, mas é verdade
que existe uma miríade de temas muito importantes. O que nós fizemos há dois
anos e estamos implementando numa transição bastante custosa: reduzimos a grade
de disciplinas obrigatórias e aumentamos brutalmente as disciplinas eletivas.
Então se o aluno quiser seguir a carreira de administrativista, aqui ele fará o
melhor curso de Administrativo. O mesmo com Penal, Civil, Constitucional etc.
ConJur — E na estrutura física da faculdade, o que precisa mudar?
ConJur — E na estrutura física da faculdade, o que precisa mudar?
Floriano de Azevedo — Um dos meus desafios é administrar uma
instituição bicentenária quase, tradicional, mas que não pode perder a
atualidade. E a atualidade implica ter ferramentas tecnológicas atualizadas,
métodos de ensino atualizados e ter uma infraestrutura adequada ao fim que se
propõe. Isso implica necessariamente uma renovação e uma mobilização e
recursos. Então um grande desafio que nós temos é um desafio de viabilizar
soluções de captação de recursos perante a sociedade, perante os ex-alunos,
perante as empresas, para, sem abrir mão da nossa autonomia, poder melhorar a
infraestrutura física. Eu brinco que estar em um prédio tombado não nos condena
a estudar em carteiras quebradas, não nos condena a dar aulas sem meios de
tecnologia para poder projetar ou para poder acessar online uma jurisprudência
ou uma lei.
ConJur — O que é mais urgente?
ConJur — O que é mais urgente?
Floriano de Azevedo — A biblioteca. Estamos há oito anos
patinando no tema da biblioteca e ela é uma condição de honra para uma
faculdade de Direito como a nossa.
Depois, temos que revisitar fortemente a nossa infraestrutura de TI, embora a USP venha fazendo esforços notáveis.
Terceiro, a gente tem que ter uma requalificação das nossas salas de aula, da nossa infraestrutura de ensino, porque efetivamente, ainda que não possamos e não queiramos descaracterizar nosso espaço físico, é cada vez mais difícil estudar em salas que são as salas do século XIX. Depois de a temperatura média de São Paulo ter aumentado oito graus, precisa ter ar-condicionado. Ruy Barbosa estudava em uma cidade fresca, nós hoje estudamos em uma cidade que faz 37, 38 graus no verão, e é difícil exigir dos alunos condições de aprendizado suando em bicas.
ConJur — Numa palestra, o ministro Dias Toffoli disse que a academia precisa deixar de ser ensimesmada. É uma acusação feita com frequência à USP, de que as teses são produzidas, defendidas, estudadas e divulgadas por alunos dela. O senhor vê assim também?
Depois, temos que revisitar fortemente a nossa infraestrutura de TI, embora a USP venha fazendo esforços notáveis.
Terceiro, a gente tem que ter uma requalificação das nossas salas de aula, da nossa infraestrutura de ensino, porque efetivamente, ainda que não possamos e não queiramos descaracterizar nosso espaço físico, é cada vez mais difícil estudar em salas que são as salas do século XIX. Depois de a temperatura média de São Paulo ter aumentado oito graus, precisa ter ar-condicionado. Ruy Barbosa estudava em uma cidade fresca, nós hoje estudamos em uma cidade que faz 37, 38 graus no verão, e é difícil exigir dos alunos condições de aprendizado suando em bicas.
ConJur — Numa palestra, o ministro Dias Toffoli disse que a academia precisa deixar de ser ensimesmada. É uma acusação feita com frequência à USP, de que as teses são produzidas, defendidas, estudadas e divulgadas por alunos dela. O senhor vê assim também?
Floriano de Azevedo — Sim, temos que nos comunicar melhor com
a sociedade. A gente produz teses muito relevantes e não divulga os seus
resultados. Isso é uma questão de comunicação, mas dou outro exemplo mais
sintomático: temos aqui regularmente quase setenta atividades de extensão.
Temos um programa de atenção à população carcerária que tem quase dez anos e é
um programa absolutamente elogiado, importante e... desconhecido. Temos um
grupo aqui que trabalha com direitos de transgêneros, um trabalho super sério,
com professores super focados, alunos e tal, que não é reconhecido. Temos um
apoio à atividade de população em condições de risco muito importante e que não
é divulgado. Se você não divulga, como a sociedade vai saber o que está sendo
feito com o dinheiro dela? O ensimesmamento passa, antes, pela divulgação. E,
quando você divulga, assume o risco da crítica.
Porém, em contraponto à opinião do meu amigo e contemporâneo, colega de turma, José Antônio Dias Toffoli, digo que a nossa atividade não é tão irrelevante para a sociedade. E eu falei isso no meu discurso de posse: a quantidade de contribuições que os professores daqui deram, para ficar num campo só, para o direito positivo, é relevante. O Código Civil é do Reale, a Lei de Processo Administrativo teve a participação de duas professoras catedráticas hoje aposentadas, a Lei da Ação Civil Pública foi feita por professores desta casa, e eu poderia ficar aqui longamente. Então, não é verdade que a nossa produção seja uma produção tão irrelevante.
ConJur — O senhor é um dos grandes nomes do Direito Administrativo. Como é, agora, administrar uma instituição?
Porém, em contraponto à opinião do meu amigo e contemporâneo, colega de turma, José Antônio Dias Toffoli, digo que a nossa atividade não é tão irrelevante para a sociedade. E eu falei isso no meu discurso de posse: a quantidade de contribuições que os professores daqui deram, para ficar num campo só, para o direito positivo, é relevante. O Código Civil é do Reale, a Lei de Processo Administrativo teve a participação de duas professoras catedráticas hoje aposentadas, a Lei da Ação Civil Pública foi feita por professores desta casa, e eu poderia ficar aqui longamente. Então, não é verdade que a nossa produção seja uma produção tão irrelevante.
ConJur — O senhor é um dos grandes nomes do Direito Administrativo. Como é, agora, administrar uma instituição?
Floriano de Azevedo — Não me surpreendi no geral, mas digo
três conclusões que eu já mais ou menos imaginava que teria, e que são muito
presentes:
Primeiro, o serviço público aqui na universidade é viabilizado, numa condição de escassez, pela abnegação ímpar de alguns servidores que realmente têm uma dedicação que merecia ser consignada em pedra.
Segundo, que o engenho e arte da sistemática da máquina administrativa foi concebido para não funcionar. Ela é absolutamente disfuncional, e grande parte do esforço desses servidores é para superar os obstáculos que são postos na própria dinâmica da gestão administrativa. Por exemplo: você precisa ter mecanismos de controle, mas são tantos mecanismos de controle que você gasta mais tempo prestando contas do que exercendo sua função.
Terceiro, o mister de administrador público é um aprendizado sobre como é gerir a escassez. Há uma marca clara que é a escassez de recursos, a escassez de gente, a escassez de meios. Pra mim tem sido um aprendizado bastante importante. Embora eu conheça o Direito Administrativo, tenho experiência muito maior no mundo privado, administrei meu escritório. Estou aprendendo a lidar com coisas que têm outro tempo, outra dinâmica. Mas, efetivamente ela só anda porque é empurrada pelo heroísmo de alguns. Essa é a experiência, não é frustrante, quer dizer, não é frustrante, mas é interessante.
Quando eu terminar meu mandato e voltar com mais plenitude para a sala de aula, a qualidade das minhas aulas de Direito Administrativo terá melhorado, porque terei exemplos práticos melhores para dar.
Primeiro, o serviço público aqui na universidade é viabilizado, numa condição de escassez, pela abnegação ímpar de alguns servidores que realmente têm uma dedicação que merecia ser consignada em pedra.
Segundo, que o engenho e arte da sistemática da máquina administrativa foi concebido para não funcionar. Ela é absolutamente disfuncional, e grande parte do esforço desses servidores é para superar os obstáculos que são postos na própria dinâmica da gestão administrativa. Por exemplo: você precisa ter mecanismos de controle, mas são tantos mecanismos de controle que você gasta mais tempo prestando contas do que exercendo sua função.
Terceiro, o mister de administrador público é um aprendizado sobre como é gerir a escassez. Há uma marca clara que é a escassez de recursos, a escassez de gente, a escassez de meios. Pra mim tem sido um aprendizado bastante importante. Embora eu conheça o Direito Administrativo, tenho experiência muito maior no mundo privado, administrei meu escritório. Estou aprendendo a lidar com coisas que têm outro tempo, outra dinâmica. Mas, efetivamente ela só anda porque é empurrada pelo heroísmo de alguns. Essa é a experiência, não é frustrante, quer dizer, não é frustrante, mas é interessante.
Quando eu terminar meu mandato e voltar com mais plenitude para a sala de aula, a qualidade das minhas aulas de Direito Administrativo terá melhorado, porque terei exemplos práticos melhores para dar.
Fonte: Revista Conjur, em
15/04/2018.
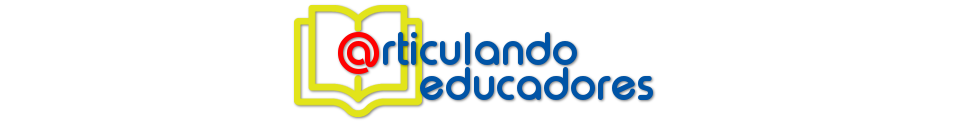
Nenhum comentário:
Postar um comentário