Escolas privadas de alto desempenho possuem um nível de desigualdade racial e econômica similar às escolas dos EUA das leis racistas ou da África do Sul do apartheid, e poucos consideram isso um problema
A pedido de sua mãe, Pedro Henrique enviava mensagens pelo WhatsApp durante todo o percurso de uma hora entre sua casa em Osasco e o colégio Bandeirantes na Vila Mariana. Mas no dia 12 de agosto as mensagens cessaram no meio do caminho. Seu último áudio seria também o último do filho recebido pela mãe. Cansado dos sucessivos bullyings que sofria por ser gay, negro e periférico em uma escola paulistana de elite, Pedro tirou a própria vida.
O suicídio de Pedro foi noticiado nos principais jornais e foi objeto de uma matéria longa na revista Piauí. Foi uma tragédia pessoal mas também social: um jovem periférico em múltiplos sentidos tinha o sonho de ascensão frustrado por conta do bullying. Filho de uma auxiliar de limpeza e de um auxiliar de almoxarifado, Pedro revelou desde pequeno dedicação excepcional para o estudo. Como o irmão mais velho, ele passou nas seis etapas de seleção de bolsistas do Ismart (Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos) para conseguir uma vaga num dos mais prestigiados colégios de São Paulo.
Ao que consta, sua trajetória até a matrícula no colégio foi celebrada por ele e pela família, sem grandes sintomas de depressão, desencaixe e sofrimento. Mas, com o passar dos anos, isso mudou. Num espaço altamente competitivo e elitista, Pedro começou a ser vítima de ataques homo fóbicos, tendo denunciado a prática mais de uma vez às diretorias do Bandeirantes e do Ismart.
O termo bullying pode ser útil para categorizar um sem número de práticas e discursos que oprimem jovens em todas as fases do processo educacional, mas ele mistifica um fenômeno social bem mais nocivo: a discriminação. Pedro foi vítima de um sem número de preconceitos que resultaram na deterioração paulatina de sua autoestima e, ao termo, de sua vida. Suas mensagens para a mãe focam nos ataques homo fóbicos, mas são conscientes de como eles se misturavam com sua condição de classe e identificação racial.
Uma matéria da Folha de São Paulo entrevistou bolsistas de diferentes escolas de prestígio e quase todos reconheceram práticas sistemáticas de discriminação contra si. Muitas dessas escolas, aliás, decidiram lidar com a discriminação cotidiana de seus estudantes convertendo-a em segregação espacial, colocando-os em turmas específicas ou proibindo-os de usar suas áreas comuns. Isso por si já mostra que a morte de Pedro está longe de ser uma fatalidade ou fruto do bullying: trata-se de uma morte marcada pelo nosso desigual sistema educacional e por ambientes que potencializam nossas discriminações.
A educação privada de alto desempenho reúne todos os ingredientes que catalisam práticas discriminatórias: alta homogeneidade social e incentivo à competitividade. Um levantamento de 2020 feito pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa - Gemaa, mostra como inúmeras escolas dessa categoria registravam 1% ou 2% de estudantes pretos e pardos em seu alunado. Quero crer que a maior parte dessas escolas não exclua estudantes de grupos desfavorecidos de modo deliberado. A rigor, são as altas mensalidades e as seleções e testes excludentes que garantem que classes médias e altas brancas quase monopolizem essas vagas.
Esse estado de coisas é naturalizado no Brasil, isto é, não há um debate público que considere essa situação um problema. O argumento é puramente econômico: quem tem mais dinheiro e pode pagar merece estudar nas melhores escolas. Mas é curioso como, em países ainda mais liberais que o Brasil, a homogeneidade das escolas é tratada como um problema político central. Nos EUA, por exemplo, a segregação racial nas escolas foi considerada inconstitucional pela Suprema Corte depois de 1968. Desde então, alguns estados e municípios adotam políticas para incentivar a diversificação racial de seu alunado de modo ativo. A África do Sul pós-apartheid também iniciou um processo de diversificação de suas escolas, em sua maioria pagas.
Já as escolas privadas de alto desempenho no Brasil possuem um nível de desigualdade racial e econômica similar às escolas dos EUA das leis racistas ou da África do Sul do apartheid, e poucos consideram isso um problema. É verdade que algumas delas têm adotado sistemas de bolsas, mas quase sempre fomentadas por ONGs interessadas em investir na educação básica. Não raro, essas seleções se baseiam em processos seletivos extenuantes e cruéis, baseados em inúmeras provas sucessivas. Esse foi o caso do Bandeirantes, cuja política de inclusão foi custeada pela Ismart e basicamente incluiu uma ínfima minoria de estudantes periféricos em seu interior.
Se não bastasse os limites da política de bolsas, o Bandeirantes deu declarações recentes de que pretende reconsiderar o programa de bolsas. Isso é uma forma não apenas de se desresponsabilizar em relação ao suicídio de Pedro — o que em si já é absurdo —, mas também de culpar os processos de inclusão e seus beneficiários pelas práticas discriminatórias.
O problema aqui está justamente nessa ideia de “diversificação mínima”, que inclui em espaços hegemonicamente brancos e abastados uma minúscula minoria de estudantes com outros perfis sociais. Não há como o racismo se expressar entre o alunado quando uma escola é totalmente branca, mas a inclusão a conta-gotas pode produzir choques drásticos, sobretudo em espaços altamente competitivos. Chegamos assim a outra disfunção dessas escolas privadas de alto desempenho: seu altíssimo nível de competição.
A reprodução das classes médias e altas brasileiras depende em grande medida do diploma universitário. Para alcançá-lo, seus filhos e filhas precisam sobreviver a uma série de testes padronizados, dentre os quais o vestibular é o principal. Ao contrário de países como a Argentina, em que basta um desempenho mínimo nesses testes para acessar o ensino superior, no Brasil há uma competição cada ano mais acirrada e na qual só os mais bem colocados passam. Um exímio vestibulando que tirou primeiro lugar na Fuvest há 20 anos correria, portanto, o risco de sequer se classificar hoje.
A maior parte das escolas privadas não vende aos pais uma experiência educativa plural e edificante, mas sim a garantia de que seus filhos conseguirão entrar num curso universitário competitivo. Muitas delas oferecem preparatórios extracurriculares e não são poucas as que aplicam simulados do vestibular ainda no ensino médio, não raro nos fins de semana. Tudo isso estabelece um nível desumano de competição entre os estudantes, que, aliás, ameaça paradoxalmente o próprio processo educacional. Há anos, diferentes estudos destacam a baixa qualidade da educação privada brasileira, excessivamente focada no decoreba e no ensino de manhas úteis para testes como esses. Quando a escola se torna um espaço de competição selvagem intra-elites, ela também se torna particularmente fértil para a reprodução de preconceitos e discriminações.
O maior nó dos processos de reprodução das desigualdades e das discriminações no Brasil está na estrutura da nossa educação básica, especialmente no ensino médio e na leniência que temos com escolas privadas socialmente homogêneas e bizarramente competitivas. As cotas socioeconômicas e raciais no ensino superior público ajudaram a mitigar essas desigualdades, mas de modo ainda modesto. Sobretudo quando temos em mente que as universidades públicas, que já formaram mais da metade dos nossos diplomados, hoje respondem por míseros 20% do sistema.
Pôde-se contra argumentar que esse cenário é comum a qualquer sociedade capitalista, mas isso só é parcialmente verdadeiro. Cada sistema educativo, com suas desigualdades e discriminações, produz problemas próprios. De todo modo, é preciso incluir na agenda política soluções para um sistema que, como o nosso, sustenta desigualdades e discriminações tão fortes.
Como um colega certa vez justificou a escolha por um caro colégio para o filho: “no dia que você for pai, vai querer a melhor educação para seu filho”. Porém, há problemas subjacentes a essa nobre intenção. Primeiro, achar que melhor educação é sinônimo de instrução de crianças e adolescentes para uma competição alucinada na vida adulta. Segundo, que o acesso a uma educação superior justifica que jovens passem a fase mais importante de sua formação protegidos de qualquer contato minimamente equânime com a diversidade racial e social de seu país.
Diante da extrema mercantilização da educação básica no Brasil, soa utópico sonhar com um sistema 100% público, embora esse seja um ideal básico, mesmo de uma perspectiva liberal. Uma sociedade só pode se basear no mérito de cidadãos caso todos tenham pontos de partida no mínimo equalizados, o que é idealmente garantido por sistemas educacionais públicos. No Brasil, estamos muito longe desse modelo e, ao que tudo indica, teremos que conviver por muitas décadas, talvez para sempre, com a existência de escolas privadas.
No entanto, isso não quer dizer que devemos aceitar que o ensino privado seja totalmente livre de regulações públicas. Logo, é urgente que o Estado regule não apenas os conteúdos pedagógicos do sistema privado, mas também sua composição demográfica e práticas de convivência. Isso implica a obrigatoriedade de cotas socioeconômicas e raciais nas escolas privadas de alto desempenho para além das limitadas e voluntaristas políticas de bolsas. Uma verdadeira política de cotas socioeconômicas e raciais nessas escolas deveria ser encarada como parte de um imposto progressivo que as classes médias e altas pagariam por terem os privilégios oriundos de um ensino pago. Não há possibilidade de que tenhamos um futuro menos desigual e discriminatório quando as escolas que formam nossas elites são máquinas de produzir desigualdade e discriminação.
Luiz Augusto Camposé professor de sociologia e ciência política no IESP-UERJ (Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro), onde coordena o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMAA. É autor e coautor de vários artigos e livros sobre a relação entre democracia e as desigualdades raciais e de gênero, dentre os quais “Raça e eleições no Brasil” e “Ação afirmativa: conceito, debates e história”.
Fonte: Jornal Nexo em 2 de setembro de 2024 (https://www.nexojornal.com.br/)
* Luiz Augusto Campos é professor de sociologia e ciência política no IESP-UERJ (Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro), onde coordena o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMAA. É autor e coautor de vários artigos e livros sobre a relação entre democracia e as desigualdades raciais e de gênero, dentre os quais “Raça e eleições no Brasil” e “Ação afirmativa: conceito, debates e história”.
** Articulando esclarece que o conteúdo e opiniões expressas nos artigos assinados são de responsabilidade do autor e não refletem necessariamente a opinião do coletivo de educadores.
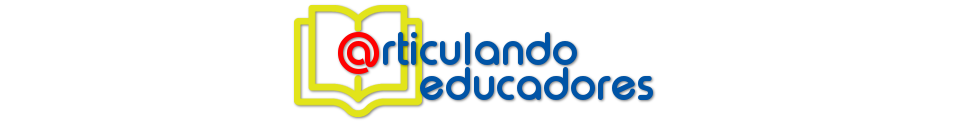

Nenhum comentário:
Postar um comentário